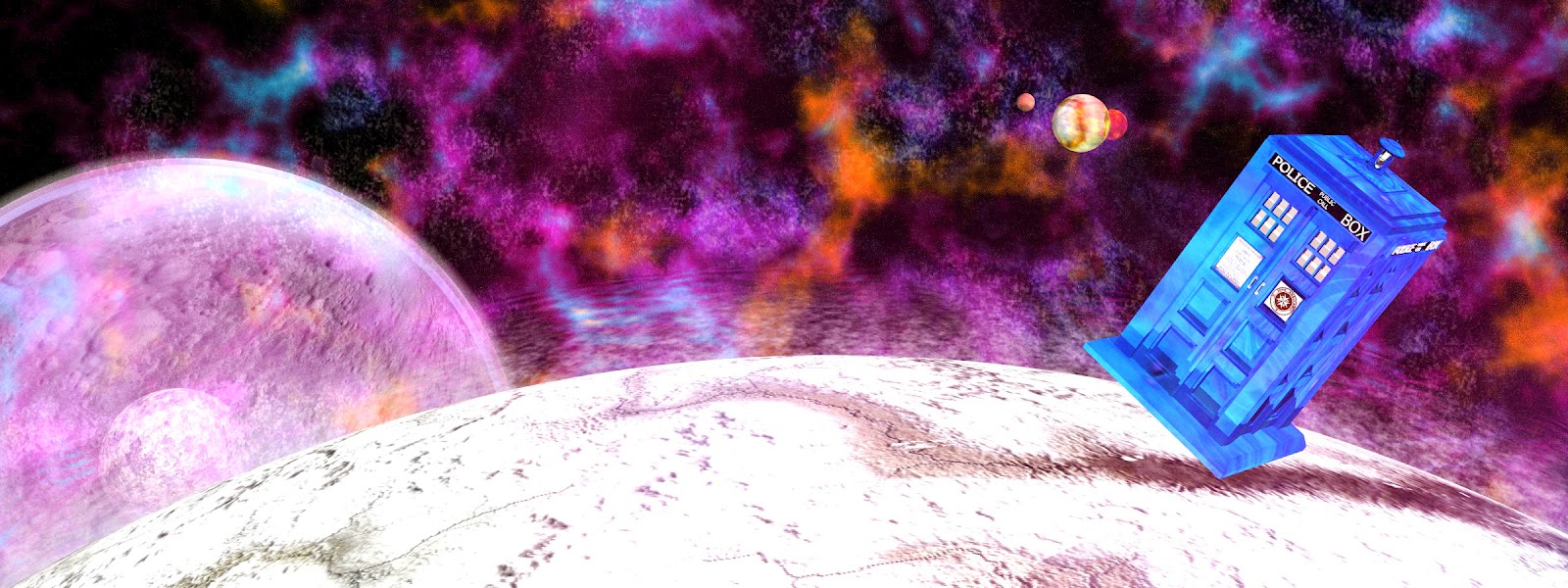quarta-feira, 31 de dezembro de 2014
terça-feira, 30 de dezembro de 2014
1889: Journey to the Moon
George Wier, Billy Kring (2014). 1889: Journey to the Moon. Createspace.
Uma belíssima e inesperada surpresa, que não descobriria senão pela dica do João Barreiros. E ainda bem. Entre acumulações de leituras e afazeres é-me raro, hoje, ler livros quase de uma assentada, mas este obrigou-me a maratonas nocturnas. Comecei a lê-lo durante a noite da consoada, para combater aquele morno tédio entre o bacalhau e as couves, e fiquei depressa capturado por um livro aparentemente simples cuja toca em mais pontos do que à primeira vista faz notar.
1889: Journey to the Moon é uma frenética aventura steampunk sobre um inventor que constrói um dirigível capaz de chegar à lua, e que reúne como tripulantes personagens tão curiosos como Billy The Kid, a trisavó de Yuri Gagarin, Nikola Tesla a dar um toque electropunk, o trisneto do pirata Edward Teach, a seguir as pisadas familiares com uma frota de pirataria dos ares, um discreto mas eficaz Jack o Estripador e todo um restante grupo de ícones da ficção pulp. Temos o engenheiro genial capaz de construir todo o tipo de mecanismos, um matemático poliglota indiano, e até um índio com dotes culinários e de karateca que busca vingar-se de um general Custer que não foi abatido em Little Big Horn. A história é uma sucessão frenética de aventuras e combates. Os heróis têm de se bater incessamentemente contra o sétimo de cavalaria liderado por um Custer apostado em capturar a presidência americana aos comandos do dirigível espacial, piratas dos ares, as predações cirúrgicas do estripador, alienígenas numa base secreta na lua, e uma batalha espacial contra naves movidas por velas solares. Mal se respira, com tanto fragor e acção, num romance que termina com o despenhar de uma nave esboroada no oceano índico.
Kring e Wier fazem bom uso dos elementos da estética steampunk, mergulhando-nos numa visão alternativa de máquinas a vapor, dirigíveis que cruzam os céus, latão polido, robots retro e todo aquele ar neo-edwardiano que tanto encanta. Visto como mera aventura frenética de tom steam já torna este livro uma leitura muito divertida. Só que aventuras frenéticas a vapor é coisa que por aí abunda, e este livro tem muito mais para nos oferecer, dando-nos dimensões de leitura perceptíveis àqueles que forem conhecedores da evolução histórica da ficção científica. Apesar dos autores encerrarem um livro com um posfácio ao jeito de manifesto a rejeitar a ideia do steampunk como ficção científica, afirmando-o como um género por direito próprio que não teme elementos da fantasia, horror e FC.
O primeiro aspecto a intrigar neste livro é que a ciência bate certo. Há microgravidade, velocidades de escape, a lua é uma paisagem desolada sem atmosfera, cálculos orbitais. O elemento fantástico é a forma de propulsão capaz de levar a aeronave à lua, um elemento electro-mecânico denominado transmogrificador que tem a capacidade de anular a influência do campo gravitacional e com finos ajustes direccionar o flutuar da nave através do espaço. Elemento fantástico que nos remete para o outro aspecto notável deste livro: a forma como mostra conhecer a longa historiografia da FC.
Todo o tema da viagem à lua remete logo para Verne, como é óbvio, mas as referências não se ficam por aqui. Fiquei com a distinta impressão que os alienígenas humanóides com fatos algo insectóides refugiados em bases construídas em grutas no subsolo lunar remetem para o filme Le Voyage dans la Lune de Meliés. Já a ideia de uma substância ou elemento capaz de contrariar os efeitos da gravidade tem ascendente directo em The First Men of the Moon de H.G. Wells, com a viagem do distinto professor Cavour num engenho propulsionado por cavourite, também a cruzar-se com habitantes das crateras lunares.
O conceito de um inventor, criador de tecnologias avançadas que reúne um grupo de aventureiros e parte à aventura para paragens exóticas, desconhecidas ou extra-planetárias remete para as edisonades. Este género dos primórdios da FC baseava-se nos feitos fantásticos de inventores modelados em Edison, capazes de, entre outras aventuras, levar frotas de dirigíveis a Marte para retaliar e submeter os marcianos ao jugo terrestre, e caracterizava parte da literatura fantástica popular da viragem do século. Outro género em voga à época, e também de génese da FC, é a guerra futura, visões de combate com armas futuristas, algo que este livro nos dá amplamente, desde scooters a vapor armadas com arpões, dirigíveis de combate, carros blindados, espingardas de ar comprimido, robots e até lasers no espaço. É uma vénia, suspeito, dos autores, aos géneros que formaram a FC e que estavam mais pujantes na época que o steampunk tanto gosta de reinventar. Também não fica esquecido o género wild wild west, apesar daqui a inspiração partir mais da série televisiva e do filme do que dos mais clássicos steam men of the prairie, também contemporâneos do final do século XIX.
Uma leitura frenética, empolgante, bem escrita. Destaca-se pela luxuriante iconografia steam e rigor nos elementos mais próximos da FC. Torna-se notável por espelhar de forma muito elegante elementos dos primórdios da história da ficção científica, conseguindo torná-los apreciáveis sem se tornar romance referencial. Foi uma excelente surpresa para encerrar um ano de boas leituras.
segunda-feira, 29 de dezembro de 2014
Comics
Star Spangled War Stories GI Zombie #04: Jimmy Palmiotti está a divertir-se com este personagem anacrónico. GI Zombie é um agente secreto zombie inteligente, cujas habilidades como morto-vivo o tornam valioso para missões de alto risco. Sendo zombie, tem de ser alimentado, e não sendo estas criaturas vegetarianas as forças armadas americanas têm de lhe fornecer refeições apropriadas à sua dieta específica. O que não é problema, quando se tem prisões cheias de criminosos perigosos e condenados à morte. Digamos que entre a cadeira eléctrica e o serviço de take away... venha o diabo e escolha. Esta sequência de alimentação é um momento bilhante de humor negro, que foge ao esperado horror visceral do zombie a comer com uma ironia que se torna hilariante ao ser tão comedida.
Letter 44 #13: E sim, finalmente, começamos a ter respostas. A premissa de Charles Soule continua interessante, com um artefacto alienígena algures por entre a cintura de asteróides, um presidente progressista a ter de lidar com as guerras legadas pelo seu fascizante predecessor, e o investimento em armemento avançadíssimo para dar à humanidade alguma hipótese de sobrevivência caso o artefacto se revele hostil. Mas Soule tem arrastado a série, levando-a com um passo muito lento enquanto ramifica o enredo. Só que a principal questão, a do encontro com os alienígenas, tem ficado por responder. Nisto Soule aplicou bem os princípios de manter o suspense em alta, com inúmeros recontros que quase se transformam em combate espacial. Mas pôs finalmente ponto final na questão, com a captura benévola dos tripulantes da nave de defesa/primeiro contacto e os primeiros diálogos de compreensibilidade reduzida com os alienígenas. Que, em resposta a uma das questões do comic, parecem ser amigáveis e ter vindo ao sistema solar para ajudar os incautos humanos contra uma ameaça maior. Entretanto, na Terra, o presidente americano aniquila uma divisão panzer com uma arma espacial em retaliação pelo envolvimento alemão numa detonação nuclear que aniquilou boa parte do corpo de tropas avançadas colocado no Afeganistão, uma conspiração entre a chanceler alemã e o antigo presidente americano que levanta novas questões. Cá estaremos para as ler. Sem ser esplendorosa, Letter 44 é uma das mais interessantes séries de 2014 com continuidade para o próximo ano.
The Massive #30: O pormenor final de arca de noé em rumo a um novo futuro é curioso, mas esta série termina esgotada. A criatividade e o rumo já se tinham ido há alguns números atrás. Brian Wood decidiu-se pelo catastrofismo total e aniquilou a vida na terra tal como a conhecemos com um acontecimento inexplicável em que partes da crosta terrestre foram expelidas para o espaço. Resta o navio, contendo um bioma que conserva uma amostra da antiga terra e os tripulantes humanos, para legar o melhor da humanidade no que agora está transformado num oceano planetário. É um final que deixa lugar à imaginação, mas não chega para desculpar o desastroso percurso descendente da série. Wood é um futurista de respeito e teve momentos brilhantes durante o decurso de The Massive, mas a páginas tantas percebeu-se a perda de rumo e o tactear em busca de uma inevitável conclusão.
The Ressurrectionists #02: Uma história de roubos e vinganças que começa no antigo egipto e irá concluir-se na contemporaneidade. Não se trata de viagens no tempo, antes de uma variante da premissa batida de dramas milenares que se repetem quando personagens contemporâneas despertam recordações de vidas passadas. O argumento é de Fred Van Lente, que assina a genial ironia de Archer & Armstrong e está a dar uma visão interessante semi-cyberpunk, semi-trans-humanista ao clássico Magnus Robot Fighter. Não sendo inesperado, é divertido e ritmado.
sábado, 27 de dezembro de 2014
Dreamy-weamy
Do you know what I hate about the obvious? Missing it.
Das coisas que mais gosto no Doctor Who: a maneira talentosa como brincam com a linguagem. Qualquer bom episódio tem centenas de duplos sentidos, nalguns casos auto-referenciais. Sempre com uma textura riquíssima de diálogos. E qual é o whoviano que não sorri com esta: Oooh, it's all a bit dreamy-weamy...
Das coisas que mais gosto no Doctor Who: a maneira talentosa como brincam com a linguagem. Qualquer bom episódio tem centenas de duplos sentidos, nalguns casos auto-referenciais. Sempre com uma textura riquíssima de diálogos. E qual é o whoviano que não sorri com esta: Oooh, it's all a bit dreamy-weamy...
sexta-feira, 26 de dezembro de 2014
aCalopsia: As Serpentes de Água
Nova crítica no aCalopsia, ao notável livro As Serpentes de Água por Tony Sandoval. Leva-nos de regresso aos tempos longínquos da infância. Recorda-nos o tempo em que os terrores imaginários ainda não mediados pela iconografia cultural nos despertavam os sonhos. Mexe com o desconforto do crescimento, sublimando num mundo de magia intemporal a amizade entre duas raparigas. Fá-lo acentuando o onirismo e o irreal, com um grafismo esplendoroso que deslumbra o leitor. Escrevo isto, com o sentimento que deixei muito de fora. Este não é um livro de frieza lógica, antes uma colagem coerente de ideários que nos toca ao nível emocional. A edição da Kingpin Books sublinha a excelência do livro com uma edição de luxo, muito cuidada, de capa dura e papel de prestígio que faz realçar o grafismo do autor. Mais aqui: aCalopsia: As Serpentes de Água de Tony Sandoval.
Hieroglyph
Ed Finn, Kathryn Cramer (2014). Hieroglyph: Stories & Visions for a Better Future. Nova Iorque: William Morrow.
Será necessária uma nova ficção científica positivista e interventiva, para contrabalançar o sucesso das distopias e relançar a faísca do futuro como algo de luminoso a almejar, possibilitado pelo espírito científico? É esta a ideia subjacente ao projecto Hieroglyph, lançado há cerca de um ano por Neal Stephenson e que começou por ser uma plataforma que reuniu cientistas e escritores, provocando discussões e analisando a plausibilidade das visões futuristas. Confesso que é uma ideia que partilho, com reservas. A vertente de intervenção programática pode parecer problemática, mas insere-se numa tradição da FC clássica de olhar para o futuro não como oráculo mas como extrapolador de tendências, sabendo que esse acto não é inocente e influenciará os públicos.
É uma ideia que partilho, com algumas reservas. Ficção científica, creio, é antes de mais ficção e deve ser vista à luz da sua qualidade literária. Ser interventiva e panfletária não a torna por isso diga de nota. E se pode e deve ser interventiva, que o seja com ideias frescas, sem repescar nostalgias de uma era dourada, encarando de frente os desafios da modernidade. São dois aspectos em que a antologia Hieroglyph, produto das discussões contínuas na plataforma, se revela pertinente. Os contos misturam autores bem conhecidos e estabelecidos com nomes em ascensão. A qualidade literária é cuidada, e o ideário firmemente dentro das balizas da modernidade tecnológica. Intrigante, luminosa, positivista, a olhar para a tecnologia como forma de capacitar a humanidade a enfrentar desafios e a prosperar. Mas há algo que me incomoda em toda esta luminosidade.
A primeira observação que li à antologia foi a de Damien Walter, que se confessou abismado com o deslumbre com a visão de empreendedorismo solucionista/tecnológico típico de Silicon Valley que caracteriza o lado mais lucrativo da tecnologia enquanto objecto de consumo, uma visão implementada de forma acrítica que desvia o olhar das desigualdades que gera e problemáticas sociais e ambientais que levanta. Walter é incisivo, acusando o projecto de ser deliberadamente ingénuo, repetindo os mitos neo-liberais com uma roupagem de futurismo tecnicista. Não consigo deixar de concordar com esta observação. Talvez eu, habitante de um país austerizado e a saque, numa europa aprisionada pelo credo neoliberalista, esteja a ver demais, em reacção alérgica a uma ficção que me atrai mas nalguns aspectos parece apresentar de forma radiosa uma forma de agir no mundo cujos profundos estragos que faz observo no meu dia a dia. Afastando os extremos, é perceptível que boa parte da antologia vive desse futurismo ingénuo, da ideia de carismáticos empreendedores esclarecidos cuja visão é infalível e trará um progresso incomensurável à humanidade.
Para crédito dos editores, sente-se que se aperceberam dessa vertente e souberam misturar pontos de vista. Se parte das visões se alicerça neste caudilhismo tecnocrático, também temos visões que se inspiram na colaboração entre redes, que olham para um terceiro mundo assolado pelos problemas trazidos pelas alterações climáticas, que questionam a ética da utilização de tecnologias em engenharia social, ou satirizam a competição implacável motivada pelo lucro financeiro e o consumismo tecnológico.
E consegue este Hieroglyph cumprir o que propõe? A ver vamos. Não se pode medir as consequências de um movimento a partir do seu primeiro manifesto. Aliás, coisa que não falta por aí são manifestos saídos de movimentos fugazes e depressa esquecidos. Boa parte dos escritores participantes já se distinguem pelo seu lado activista na defesa da visão humanista de raíz iluminista do papel da ciência e tecnologia na sociedade, casos de Stephenson, Brin ou Benford. Ou cujo activismo que confunde com a sua ficção, como já é habitual em Doctorow ou Sterling. Também nos traz vozes novas que se estão a distinguir quer na hard SF quer no articulismo futurista da blogoesfera global, caso de Anders, Schroeder, Bear e Newitz. Outros vão-se colocando em vários espectros, levantando muitas vezes as questões mais pertinentes, uma vez que os de sempre dão-nos aquilo a que sempre nos habituaram. Como é natural, sublinho. Há até espaço para um corpo estranho, mais no campo do transreal do que na FC especulativa bem informada.
O que é inegável é que Hieroglyph provoca. Há um toque de nostalgia da velha FC tecnocrática, sublimado pelo mergulho na modernidade. A especulação é bem informada e de elevadíssimo nível, alimentada por discussões com cientistas na vanguarda da investigação. A qualidade literária, como é expectável numa antologia que reúne tantos nomes sonantes, é elevada. Resta saber se terá o impacto que os autores desejam, mas algo é inegável: trata-se de uma antologia que dá gosto ler, que provoca a mente, estimula ideias, intriga e leva-nos a reflectir sobre os impactos tecnológicos, problemáticas contemporâneas e possibilidades de futuro. O estímulo é do melhor que podemos ter na ficção especulativa.
Atmosphaera Incognita: Neal Stephenson, mentor primário quer deste movimento quer da antologia, arranca com um conto tão optimista que quase nos cega com tanto brilho. A temática centra-se no etéreo conceito de elevadores espaciais e a história gira à volta da construção do primeiro elevador em direcção ao espaço, levada a cabo por um empreendedor visionário que no processo revoluciona indústrias, ultrapassa os limites da engenharia e ciência de materiais, e toma decisões cujo impacto só fará sentido anos ou décadas depois. O conto é intrigante, mas sofre da praga do caudilhismo empreendedorista. Nada se passa, tudo é imutável, até surgir um visionário que não tem medo de espalhar os seus milhões e é graças a ele que a humanidade dá um novo passo em direcção às estrelas. Das suas sábias decisões depende o catalisar de novas indústrias e novos mercados. Ou seja, Stephenson quis ser tão optimista que caiu na armadilha de se centrar na visão do líder de ruptura. Não deixa de ser verdade que empreendedores carismáticos conseguem inovar e criar aplicações tecnológicas que mudam o mundo (veja-se o caso de Steve Jobs e da apple) mas, por outro lado, os melhores destes apenas se distinguem pela visão de criar novos produtos a partir de tecnologias existentes mas não estão a criar nada de fundamentalmente novo (veja-se, novamente, o caso de Steve Jobs e da apple). E Stephenson quer apontar para um nível mais elementar. Sim, concordo, precisamos de novas ideias e de um novo optimismo tecnológico. Mas fazê-las depender dos caprichos de uma oligarquia rarefeita não é nada boa ideia. Até porque, no mundo dos hiperbilionários, quandos Elon Musks ou Sergy Brins andam por aí a investir a médio prazo em riscos tecnológicos? Pois, sim, esses mesmos. Tudo o resto anda mais ocupado de yate em yate nos intervalos entre engenharias financeiras. Não é que a história em si seja má. Toca num conjunto de possibilidades tecnológicas plausíveis, é entusiasta e, ao contrário do comum na obra de Stephenson, é conciso e não se estende, empolado, ao longo de centenas de páginas.
Girl in Wave : Wave in Girl: A contribuição de Kathleen Goonan tocou-me especialmente por ser uma história sobre um futuro utópico na educação. Esta não é uma área muito tocada pelos praticantes de FC, talvez porque aquela ideia da imutabilidade dos processos educativos tão bem explicitados por Seymour Papert na sua fábula sobre um cirurgião e um professor do século XIX transplantados para o século XX. Qual deles se sentiria à vontade no seu local de trabaho? O cirurgião teria muitas dificuldades em perceber uma sala de cirurgia contemporânea, enquanto que ao professor seria apenas preciso arregaçar as mangas. Papert criou esta fábula ao falar da importância e necessidade de incorporar a tecnologia na escola, mas a ideia da imutabilidade dos ambientes educacionais fixou-se. A coisa não é assim tão linear. É tão indesejável uma sala de aula decalcada da prelecção novecentista quanto uma sala cheia de gadgets ultra-modernos. Há que haver tempos para explorar, ouvir e criar. Mas estou a divergir. Noonan pega nalgumas críticas clássicas aos sistemas educativos, como a inflexibilidade dos tempos de aula herdada da era industrial, ou a compartimentalização de conhecimento, e adiciona-lhe a arrepiante tendência contemporânea de monetizar os sistema educativos, centrado em currículos examinados até à exaustão, explorado por empresas detentoras de mercados cativos na área dos manuais escolares e auxiliares de estudo, que cada vez vêem o mercado digital como muito apetecível. Goonan dá a volta a tudo isto com uma versão científica da pílula de conhecimento do Professor Pardal (não resisti à piada fácil): um tratamento nano-neurobiológico que permite a crianças com dislexia e outras dificuldades de aprendizagem refazerem as conexões neuronais e potenciar a plasticididade cerebral. As consequências são profundamente trasnformativas. Começa com crianças problemáticas mas depressa se estende a toda uma socidade ansiosa por aprender mais e melhor. Há a oposição esperada de grupos religiosos, sectores conservadores e instituições, que se sentem institivamente ameaçados. Num mundo onde todos sabem ler e procuram o acesso ao conhecimento, já não funciona o impôr ideologias ou distorçer visões do real como forma de controlo económico ou social. Vemos estes acontecimentos com o olhar de um futuro risonho que aprende como foram as agruras do passado de onde surgiu. E nisto Goonan é simplista mas certeira: ler capacita o indivíduo, torna-o capaz de pensar por si e fazer livremente as suas escolhas. Como coloca no seu conto, a iliteracia é uma doença a ser combatida por meios científicos, tal como as pragas que as reformas progressistas na saúde pública iniciadas no século XIX erradicaram através da vacinação.
By the Time We Get to Arizon: É difícil de ver neste conto de Madeleine Ashby algum optimismo futurista nesta sátira negra ao racismo, políticas de imigração e sociedade panopticon passada numa cidade fronteiriça clinicamente estéril patrocinada por corporações. Um casal de emigrantes mexicanos tem de aprender a sobreviver no novo normal onde qualquer objecto faz parte de um sistema de vigilância e qualquer acção conta como ponto ou demérito numa apropriação da mecânica das redes sociais como sistema de acesso a vistos de imigração. Uma visão arrepiante, porque altamente plausível, das barreiras à empatia alicerçadas em sistemas digitais e procedimentos administrativos. É-nos sempre confortável o negar aquele sentimento que as nossas acções prejudicam por detrás do estou a cumprir ordens ou seguimos os procedimentos ou o moderno de acordo com o sistema informático... Este gradual sentimento de perda de humanidade mescla-se com intrigantes visões de uma realidade mantida limpa e sanitizada através de estratégias corporate e uso invasivo de sensores tornados possíveis pela internet of things. É um novo 1984, com o pesadelo orwelliano transformado em sonho neoliberal pela aparência de prosperidade material que oculta uma necessária rendição do espírito livre humano a consensualidades limitativas. Talvez o optimismo futurista, de que a antologia é arauto, se encontre na preservação do poder antever cenários negativos e tentar evitar que se tornem realidade.
The Man Who Sold The Moon: O lado activista de Cory Doctorow é cada vez mais inseparável do de escritor. As suas ficções são interventivas e projectam em futuros próximos especulações informadas sobre questões de propriedade intelectual, predação neoliberal, capitalismo terminal e hacker culture. Este conto, quase uma novela, toca muito bem nesse pulso de futurismo catastrofista utópico com uma história sobre hackers cujo amor por desafios os torna idealistas por acaso. Tudo começa com uma amizade inesperada e um projecto insano de criar uma impressora 3D nómada que imprima blocos assembláveis como abrigos a partir da areia dos desertos. Ideia para o Burning Man, acaba por evoluir para um projecto iterativo que irá colocar impressoras 3D a vaguear pela superfície lunar imprimindo tijolos a partir do regolito para utilização por possíveis futuros colonos lunares. A ideia de periclitantes impressoras 3D a vaguear é algo de fascinante. Doctorow tempera um intenso pessimismo social com algum optimismo da hacker culture. Espelhando bem o momento contemporâneo, projecta o capitalismo rapace terminal e o avanço do precariado num futuro socialmente decadente. A esperança possível encontra-se na hacker culture, naqueles que adoram abrir para ver por dentro, reconstruir, inovar, e que o fazem apesar do colapso sistémico provocado pelo capitalismo terminal.
Johnny Appledrone Vs. The FAA: A vida por entre as gaiolas douradas das paisagens mediáticas higienizadas para bem de todos. Isto é FC da era pós-Snowden e Assange, com a erosão da confiança nas instituições governamentais, a consciência da instrumentalização do poder político a interesses corporativos, e o colaboracionismo alegre das entidades empresariais que controlam o acesso à web e os conteúdos publicados. Ostensivamente a história é um devaneio especulativo de futurismo de curto prazo, com hactivistas, drones e agências governamentais em conflito pelo controle do espaço mental de cidadania. Mas vai mais longe, e certeiro na sensação que já hoje temos que as ideias que circulam são facilmente estranguláveis ao circular em meios de comunicação com linhas editoriais enviesadas e por uma internet tida como libertária mas de facto controlada em nós centrais específicos. Um voo brilhante de Lee Konstantinou, com apps solucionistas que controlam o comportamento dos utilizadores, a desolação do desemprego estrutural num futuro hiper-neoliberal onde a automação substitui tudo o que é mão de obra humana, e um clima positivista mediático que cerceia a liberdade com apelos à responsabilidade e esmagamento de ideias consideradas danosas pelo establishment. Mas hey, não é este o mundo em que vivemos agora?
Degrees of Freedom: O conto de Karl Schroeder distingue-se pelo positivismo absoluto que revela. O conceito é interessante. Os avanços internet of things saturaram o ambiente de sensores, e o poder computacional em crescimento constante permite soluções em tempo real de inteligência artificial acoplada a big data com realidade aumentada. Schroeder leva o conceito mais longe, com ideias vindas das neurociências cognitivas, mineração de bases de dados e sistemas de decisão em tempo real que fazem uso das inteligências racional e emocional. A ideia subjacente é a de um governo 2.0, alicerçado em redes descentralizadas e algoritmos criptográficos, capaz de cumprir a real promessa histórica da democracia no combate à desigualdade, colocando nas mãos de todos ferramentas decisórias que ultrapassam e melhoram as instituições clássica, presas a grupos de interesse. Como disse, é um conto positivista. As mesmíssimas ideias podem ser usadas para exercer um controle ubíquo e pervasivo sobre as populações numa dimensão que os piores totalitarismos do século XX não ousavam sequer sonhar. Como diria Morozov, este conto é um sonho húmido de solucionismo algorítmico.
Two Scenarios for the Furture of Solar Energy: Annalee Newitz, articulista do iO9, lega-nos duas visões ensaísticas sobre futuros prováveis. Num, os sensores e tecnologias digitais imperam, numa espécie de cardboard future de ficções de design. Noutro a tónica está nas biociências, numa visão orgânica radicalmente diferente da estética limpa do design digital. Numa temos a superfície polida dos artefactos tecnológicos, noutra a intrusão do biológico num dia a dia cheio de fungos e relva personalizada. Ambas espelham uma concepção do urbanismo futuro que relega para a memória histórica o conceito contemporâneo de cidades pensadas em função do automóvel. Dose forte de especulação informada.
A Hotel in Antarctica: O conto de Geoffrey Landis sofre de empreendedorismo alastrante. O conceito é inteligente e a ciência sólida, ao analisar a construção de um hotel no continente antártico que dê resposta ao interesse turístico, desenvolva técnicas de sobrevivência confortável num local inóspito que possam servir posteriormente para a exploração espacial, e desperta as consciências para a problemática do aquecimento global. Intrigante e bem montado, mas a fazer tudo depender dos impulsos de empreendedores e dos desejos voláteis de bilionários. Claramente infectado com um dos mais pervasivos mitos neo-liberais, o da superioridade do empreendedor capaz de mover montanhas sobre o esforço sustentado de organizações, mito que esquece que as tecnologias que tornaram alguns empreendedores famosos pelas inovações que trouxeram aos mercados foram consequência de processos de investigação sustentada durande décadas por parte das instituições académicas e organizações científicas que tanto desprezam. Este culto do empreendorismo dá o tom ao conto, que acaba por ser uma insossa especulação com boa base científica.
Periapsis: É assim tão desejável competir por um lugar numa sociedade próspera mas fechada? Numa competição que implicar largar tudo para arriscar uma hipótese remota? O conto de James Cambias extrapola para um futuro próximo o sonho recorrente dos libertários que de volta e meia vêm propor nações flutuantes que lhes permitam auto-governar-se longe da tirania dos estados democráticos. Cambias leva-nos a um sistema solar em colonização e a Deimos, lua marciana cuja localização estratégica a transforma num núcleo central das viagens pelo sistema solar. Neste ponto nevrálgico emergiu uma sociedade cooperativa libertária fechada, que aceita apenas aqueles mais meritórios entre os meritórios. E, magnânima, abre por ano uma vaga para o vencedor de um concurso exigente que obriga os concorrentes a largar tudo e apostar numa vitória ao longo de uma dura série de testes intelectuais cujas soluções, normalmente ideias lucrativas, revertem não para os criadores mas para os promotores do concurso. A pergunta óbvia - porque é que os melhores e mais brilhantes hão de se dar ao trabalho de competir por uma vaga numa sociedade que se aproveita deles como drones de trabalho escarvo, acaba por ser feita no final do conto. O cerne é a competição, e Cambias aproveita para umas especulações interessantes sobre manufactura aditiva, solucionismo tecnológico e criatividade potenciada por tecnologia. Mas não escapa à fé inabalável em meritocracias que se assumem livres mas exigem o consenso total daqueles que nelas participam. Necessidade essa geralmente explicada com um "reparem, mas é melhor assim, vejam a nossa prosperidade, e se questionarem, não têm lugar entre nós". O curioso no conto é que dois dos personagens realmente questionam, e concluem que se podem estar em todo o sistema solar para quê submeter-se aos ditames do colectivismo libertário?
The Man Who Sold The Stars: Gregory Benford consegue um momento brilhante de idealismo de hard SF. A páginas tantas, ainda no início deste longo conto, um dos personagens dispara esta pérola de futurismo nostálgico da era espacial: Why not go to the stars? Because we are the descendents of those primates who chose to look over the next hill. Because we won't survive on this rock indefinitely. Because they're there.. O que se segue é uma especulação informada sobre tecnologias e meios de exploração que permitam realmente à humanidade expandir-se para as estrelas. Começa com a mineração de asteróides e progressivas colónias na lua, em órbita e nos planetas, equilibrando os passos em direcção às estrelas com a sustentabilidade económica. E reside aqui o pior do conto de Benford, que me deixou pessoalmente estupefacto com a cegueira de um dos mais distintos cientistas e escritores contemporâneos de FC. Fiquei com a sensação que Benford foi convidado a passar uns dias com Elon Musk (bilionário, fundador da SpaceX e da Tesla Motors, uma espécie de Tony Stark da vida real) e saiu de lá tão deslumbrado que passou a defender o caudilhismo capitalista como a melhor forma de fazer progredir a ciência, a tecnologia e a sociedade. Todo o conto é uma longa diatribe contra supervisão política ou institucional, contra regulamentações, uma defesa libertária do retirar limites económicos e legais para que os empreendedores esclarecidos possam puxar a humanidade. Surpreende, este deslumbramento com algo tão problemático e que parte da premissa errada do solucionismo empreendedorista. Benford omite, ou faz por esquecer, que para cada Elon Musk como bilionário que investe fortemente em tecnologias que expandem as possibilidades de futuro há dezenas ou centenas de irmãos Koch, a financiar activamente governos para que estes desinvistam em ciência e tecnologia, piorem as condições sociais, facilitem os desmandos do grande capital e censurem aqueles que se atrevem a falar de desigualdades ou aquecimento global. Esta lista poderia continuar. Não que Benford seja imune às desigualdades, que relativiza como umas massas humanas que colocam pressões injustas sobre os seus governos que se vêem obrigados a atrapalhar os meritocratas para poder financiar os desejos injustos das massas de desperdícios humano. A coisa só se resolve com colapsos que extinguem boa parte destas massas. Percebe-se, a perfeição económica neo-liberal automatizada com tecnologia funciona melhor com quantos menos humanos envolvidos tiver. Bastam os meritocratas empreendedores e os seus servos com conhecimentos de engenharia. Tudo o resto é descartável. Benford faz questão de sublinhar várias vezes as vantagens da robótica assinalando que robots não se cansam nem se reformam, trazendo à tona o pior do capitalismo tecnológico que vê a mão de obra humana como uma menos valia precisamente porque é obrigado a reconhecer os seus direitos elementares. Recordam-se dos intelectuais dos anos 50 que foram convidados a ir visitar a União Soviética e vieram de lá deslumbrados pelo progressismo do sistema soviético (não escrevo "comunista" porque há uma grande diferença entre o comunismo e o regime soviético, tal como, por exemplo, entre o islão e as islamocracias ou a tradição democrática humanista/iluminista e as correntes democracias reféns de elites financeiras)? Cegos perante os gulags, imunes ao registo histórico dos massacres e purgas, levados apenas às vilas potemkin do regime, fascinados com um progressismo vermelho que de facto servia apenas para disfarçar os desmandos dos elementos sedentos de poder do regime? Benford faz o mesmo, desta vez deslumbrado com as possibilidades do capitalismos empreendedorista tecnólogo, esquecendo deliberadamente que as tecnologias que alicerçam e tornam possível este tipo de capitalismo foram (e são) desenvolvidas em instituições públicas. Que as regras que tanto gosta de desconsiderar existem, em grande parte, para assegurar a segurança dos envolvidos. Fiqui abismado ao ler, por exemplo, a defesa do fim das restrições às detonações atómicas na atmosfera para que sistemas de propulsão do tipo Orion sejam desenvolvidos, na fantasia que quem o fizer fará certamente sem falhanços. Doutros autores afirmações destas não fariam mossa, mas Benford é cientista. Deveria saber melhor. Não deixa de ser um excepcional especulador, com sólidas extrapolações de tendências tecnológicas, mas espalha-se na defesa desde idealismo que mais parece saído da The Economist ou do Financial Times do que da ficção científica. Sejamos honestos: queremos mesmo deixar as rédeas do futuro da humanidade entregues aos caprichos de carismáticos caudilhos? Suspeito que quem defende este ideário não aprendeu nada com a história humana, que durante milénios andou dependente precisamente das castas aristocráticas esclarecidas, e não foi muito longe com isso. Escrevo isto correndo o risco de ser injusto para com algumas figuras marcantes que são de facto carismátias e põem os seus milhões a trabalhar para o bem de todos. Para as estrelas, até, caso do intrigante Elon Musk que é talvez a influência mais visível neste conto. Mas esses são uma ínfima minoria. Ou isso, ou Benford mimou-nos com uma fina ironia com o neo-liberalismo a substituir as pulsões totalitárias heinleinianas.
Entanglement: Este conto de Vandana Smith quebra o fio condutor de caudilhismo tecnológico carismático a seguir uma linha decisiva. O desafio aqui é reverter os efeitos do aquecimento global e não há soluções únicas, antes uma teia de soluções locais para problemas específicos que formam uma vasta resposta global. A suportar a teia está uma rede social diferente, onde não se partilham estados em busca de gostos fugazes mas que coloca em sintonia a empatia de pessoas em locais geográficos díspares. O pensamento momentâneo de alguém que simpatiza com o sentimento de inquietude de um outro distante é a faísca que gera acção, quer seja o não perder os sentidos nas águas geladas de um ártico povoado por bactérias geneticamente modificadas, perceber o papel da arte urbana para aplicar arquitectura verde numa metrópole moderna no meio do amazonas, não se render à velhice e investir no activismo ambiental no meio do Texas ou encontrar-se entre as ruínas de um mosteiro tibetano. Destaca-se por sublinhar a diversidade de soluções, aplicando o conceito de inteligência distribuída.
Elephant Angels: Outro conto que aborda o conceito de inteligência distribuída, centrado numa rede global de volutários apoiada em drones que vigia os parques naturais africanos, prevenindo ataques de caçadores e comerciantes de marfins ou desenvolvendo esforços frutuosos para os levar à justiça. Brenda Cooper sublinha bem o espírito cooperativo potenciado pela internet, extraplado para um futuro onde tecnologia pervasiva e redes digitais globais se tornam numa arma de resposta imediata em apoio à conservação da natureza.
Covenant: Elizabeth Bear lega-nos um conto muito hermético e bem construído sobre um ex-psicopata assassino que se descobre presa de outro psicopata. Mas não se trata de nenhum conto de suspense policial, antes uma especulação informada sobre a capacidade da bioquímica aplicada à medicina de modificar o comportamento dos indivíduos, alterando profundamente as suas formas de ser e pensar ao nível cerebral mais elementar. Bear não se fica pelo suspense policial nem pelo deslumbre especulativo entre a genética e a medicina radical. A despersonalização, a intencional troca de personalidade forçada pelos químicos e terapias tem fortes implicações éticas a que a autora não se esquiva. Mesmo sabendo que estamos perante um criminoso reabilitado, as implicações morais e de liberdade de consciência destas possibilidades incomodam.
Quantum Telepathy: Rudy Rucker opta por nos mergulhar numa das suas estranhas doses de surrealismo científico. Estamos num mundo pós-fim do petróleo, e a tecnologia é algo de orgânico, feita de matérias bio-cibernéticas que se adaptam às necessidades dos seus detentores. Um homem de negócios decide ir mais longe, vendendo bio-consctructos de matriz quântica que estão impregnados por personalidades humanas, provocando surtos de telepatia que se transmitem de forma viral. A conclusão, bem humorada, é óbvia. Ninguém quer realmente saber o que se passa dentro da cabeça dos outros. Um voo típico de Rudy Rucker, dentro daquela estética luminosa de toque californiano com céus azuis, camisas havaianas e tecnologias biomórficas controladas por personagens joviais.
Transition Generation: Se tenho até agora criticado a fé cega de muitos dos autores desta antologia numa estreita visão de empreendedorismo carismático, foi preciso esperar quase até o seu final pelas sátiras a esta visão. David Brin é conhecido pela forma como ao mesmo tempo defende os dois lados desta diputa enquanto nos avisa do resvalar em direcção a uma nova piramidização da estrutura social com os novos aristocratas da finança a ditarem o rumo da sociedade. Neste conto satiriza o espírito de inovação darwinista, o economês bacoco de gestão flexível de organizações, a competição acérrima entre elementos laborais e o espírito artificialmente alegre imposto pela ideologia baseada no marketing que pervade a imagem pública de uma certa vanguarda da tecnologia.
The Day It All Ended: Neste conto de Charlie Jean Anders a ironia é muito mais fina. A ideia de uma empresa carismática cujos produtos caros e de utilidade duvidosa lideram o mercado e são objectos de desejo, empresa essa dominada por um executivo idealista praticante de metodologias de gestão new age, é uma muito óbvia e pouco velada referência satírica ao domínio icónico da Apple na visão da computação de consumo. A crise de consciência de um executivo vindo de organizações não governamentais que tentam salvar o planeta, crise essa antecipada pelo método de planeamento do carismático lider, vem revelar o propósito secreto do lado obscuro da tecnologia: salvar o planeta. Afinal, os gadgets caros e copiados que são objectos de desejo consumista têm naquelas opções que ninguém usa o poder de mudar o mundo, quer através de torres de comunicação que também são capazes de limpar o CO2 da atmosfera, ou acessórios para automóveis que forçam os donos a partilhar viagens e a poupar combustível. Uma sátira brilhante à dicotomia conflituosa entre tecnologia consumista cara e descartável e os problemas ambientais globais.
Tall Tower: Bruce Sterling leva-nos a cavalgar em direcção ao pôr-do-sol neste final excepcional de uma antologia brilhante. Finaliza num círculo perfeito, fazendo-nos regressar à torre em direcção ao espaço do conto de Neal Stephenson que abre o livro. Sterling leva-nos ao futuro, onde o artefacto sempre esteve na memória humana e os dilemas, angústias, esforços e nomes de quem a construiu se desvaneceram. Sterling dá um toque nostáligico que referencia o trans-humanismo da sua clássica série Schismatrix. fazendo-nos intuir que a humanidade trascendeu para o espaço, uma transcêndencia tecnológica que tem o seu quê de religioso. Os humanos em diminuição vivem as suas vidas no planeta, e ao envelhecerem vêm até à torre para serem levados aos céus e transformados, pela ciência avançada que nos é quase incompreensível, em pós-humanos. Um ponto curioso, mas depressa se torna claro que não é esse o ideário que fascina Sterling. Antes, é a ideia da torre como artefacto unificador, em cujo sopé floresce aquele tipo de civilização de fronteira, desenrascada e pós-catastrofista, que traça as suas linhas quase sempre sem seguir os padrões éticos e políticos aceitáveis. Para Sterling a torre, que no conto de Stephenson foi o corolário da engenharia visionária, é um ecossistema que atrai as fímbrias mais estranhas e radicais de uma humanidade que se desvanece, homens e mulheres tenazes que colonizam as reentrâncias da torres mesmo onde a atmosfera é mais hostil, até mesmo na frieza total da orla do espaço. Há algo de Taklamakan, um dos seus melhores contos sobre uma experiência de nave geracional oculta sobre os desertos chineses, nesta visão. E fá-lo que um modo que coloca de parte o cosmopolitismo europeista que tem caracterizado a sua obra recente. Regressa às raízes texanas, com um cowboy pós-wild west, para quem a inevitável transcendência para a pós-humanidade tem de incluir o seu fiel cavalo, e que acaba por levar a cabo um projecto muito másculo de subir toda a torre até ao espaço, montando no seu cavalo. O espírito de fronteira, de rumar ao desconhecido, simbolizado pela iconografia clássica do cavalgar sob o sol poente transferido para os limites da atmosfera, são aqui sublimados por Sterling naquele que é o melhor momento ficcional da antologia.
quinta-feira, 25 de dezembro de 2014
Done.
E pronto. Finalizado. Uma brincadeira para o concurso Um Natal com Doctor Who, promovido pelo Whoniverso PT. Não me meti naquilo para ganhar nada, foi uma boa desculpa para finalmente meter as mãos no Sketchup Make e modelar uma Tardis. Podem não acreditar, mas já há mais de um ano que me andava a apetecer fazer uma. E agora se alguém lançar algum concurso de carnaval com Daleks, já teria desculpa para meter mãos à obra no meu outro projecto eternamente adiado de 3D whoviano...
quarta-feira, 24 de dezembro de 2014
Boas Festas
Por aqui não se desejam coisas delicodoces como paz no mundo, aconchegos familiares ou orgias consumistas de sapatinhos cheios. A todos os que vão passando por aqui, continuemos a olhar para os céus.
(E um belíssimo especial de natal aos whovianos.)
terça-feira, 23 de dezembro de 2014
Sustos às Sextas
Uma iniciativa prometedora, que de janeiro a maio levará numa sexta feira por mês fãs das literaturas fantásticas e de horror ao Palácio dos Aciprestes em Linda a Velha. Pelo programa será um tipo de evento que mistura tertúlia com palestra. Algo que faz falta, um momento de encontro dos fãs do género fora dos momentos habituais.
O programa já está definido para as cinco sessões, e promete. Já sei onde irei estar nestas sextas-feiras (desde que consiga descortinar onde fica este palácio, algo que com alguma navegação judiciosa deverei conseguir). Para mais informações visitem a página do Sustos às Sextas.
segunda-feira, 22 de dezembro de 2014
Comics
Alex & Ada #11: Este comic sobre andróides sentientes e os humanos por eles fascinados continua com uma premissa intrigante, apesar de ter decaído para a tragédia romântica. Uma vertente talvez inevitável. Contextualizando, Alex é um jovem desiludido com relações a quem é oferecido uma andróide de companha, Ada (óbvia referência para quem conhece a história da computação). Alex não se interessa pela máquina pelas razões sexuais óbvias, e acaba por encontrar forma de lhe desactivar limites impostos ao software por uma sociedade que teme consequências da inteligência artificial. A história de amor acaba por acontecer com uma Ada auto-consciente, a descobrir-se a si e ao mundo, algo que mesmo quando se tem processadores de elevada capacidade e ligação de alta capacidade às redes digitais não é tão fácil quanto aparenta. Premissa brilhante, pura ficção especulativa sobre sexbots, robots de companhia, medos sobre inteligência artificial, injustiça social e simulacros, mas a arrastar-se num romantismo previsível. Destaco-a por causa desta vinheta, saída directamente do interessante Alone Together da Sherry Turkle.
Shadow Show #02: É a Neil Gaiman e Audrey Niffeger que cabem as homenagens deste segundo número do comic elegíaco a Ray Bradbury. No conto de Gaiman a vénia é profunda, com a metáfora do homem que se esquece das palavras, desvio a Fahrenheir 451, nos leva num périplo pelas obras mais marcantes de Bradbury.
The Sandman: Overture #04: Segunda dose de Neil Gaiman, que nunca é demais, bem sabemos. O incontornável regresso de The Sandman vai saindo a conta-gotas, vítima da agenda do agora bem sucedido escritor de fantasia, e isso sente-se nesta série. É demasiado etérea, pouco focalizada. É o prelúdio pós-escrito de uma história que todos conhecemos e sabemos como acaba, mas vai-se lendo mais como devaneio do que como linha narrativa. Não deixa de ser interessante e cativante para os fãs do escritor e do personagem. Na série o conceito de múltplos Sandmans das dimensões paralelas físicas e espirituais mal tinha sido aflorado. E parece que Gaiman neste prelúdio acabou de nos dar um novo personagem. Morpheus tem um pai, o que abre toda uma nova dimensão ao universo ficcional da série. O que serão os progenitores dos The Endless, encarnação de metáforas universais absolutas? O próprio tempo, que se sobrepõe ao destino, ao sonho, aos desejos e desesperos, e talves esteja com a morte no final de tudo para ajudar a encerrar a porta sobre o universo, voltar a tapar com a cortina e reduzir ao vazio tudo o que foi um imenso infinito?
Anihilator #04: Porque é que dá gosto ler Grant Morrison? Por causa de tiradas alucinatórias deste calibre. São poucos os ilustradores à altura, note-se, mas Fraser Irving está a revelar-se capaz de dar corpo visual aos delírios de Morrison neste comic curioso.
Drifter #02: O primeiro número deste comic de ficção científica da Image não me impressionou. Mais um Western in Space, com um astronauta abatido a aterrar num planeta desértico e a tentar sobreviver numa cidade de fronteira mais parecida com a de um filme do velho oeste do que de especulação futurista. Essa sensação não foi dissipada pelo segundo número, mas alienígenas intrigantes e o mistério de um astronauta que pensa ter sobrevivido recentemente ao despenhar de uma nave que há décadas que é uma ruína também desperta o interesse.
domingo, 21 de dezembro de 2014
sábado, 20 de dezembro de 2014
sexta-feira, 19 de dezembro de 2014
O Estranho Mundo de Zé do Caixão
R.F. Lucchetti, Nico Rosso (1969). O Estranho Mundo de Zé do Caixão. L&PM Editora.
Um prenúncio do que esperar: misto de sensualide e horror, com a omnipresência do obscuro anfitrião.
Do sincretismo: criaturas amaldiçoadas, esqueletos, altares primevos e bruxas saídas das selvas afro-brasileiras.
Nos trópicos, sê tropicalista, diz-nos este Diabo que não esqueçe o pé de cabra da tradição europeia.
Gatos pretos e cemitérios na noite escura. Mais clássico que isto não há.
Uma enregelada rajada de vento do horror pulp brasileiro dos anos 60. Zé do Caixão, alter-ego gótico-tropicalista do cineasta José Mojica Marins, dispensa apresentações entre os conhecedores do fantástico. Bizarra mistura de terror gótico com o sincretismo afro-brasileiro, misturando elementos do horror clássico vitoriano com as tradições da bruxaria sobrenatural num registo que oscila entre o visceral e o onírico. É algo estranho, mesmo para os padrões das ficções estranhas.
Mais do que um personagem, Zé do Caixão é uma longa série cinematográfica com alguns desvios para a banda desenhada. Conheço pouco, não irei falar disso. Sou um apaixonado pelo À Meia Noite Levarei Sua Alma, primeiro filme do personagem que oscila entre o surreal e o brilhantismo do mau cinema. Foi uma boa surpresa encontrar, pelas travessas mais obscurar da internet, este álbum de BD que se inspira no personagem como anfitrião de contos de terror. Álbum este que tem pesos pesados do pulp brasileiro. Escrito por R.F. Lucchetti, o prolífico mestre do terror pulp brasileiro recém-redescoberto pela internet, conta com ilustrações dentro da linha visual do terror clássico de Nico Rosso.
A história em si é um conto algo moralista, sobre um homem que vende a alma ao diabo para salvar a sua filha. É algo ambíguo, porque se trata de um bom homem, prestes a perder o pouco que tem enquanto assiste impotente à agonia dolorosa da filha e ao desinteresse de médicos pouco preocupados com os destinos de gente pobre. No desespero da noite, à beira de um cemitério, cruza-se com uma bruxa repelente que lhe oferece um pacto como a única saída possível. Esse pacto irá trazer-lhe riquezas e a salvação da filha, mas terá um preço irónico, elevado e trágico. Como convém neste tipo de histórias, que, claro, mostram com preeminência as sombras da noite sobre as cruzes que encimam as campas em cemitérios tenebrosos. É um terror muito clássico, apesar de resvalar para o surreal, o deste Zé do Caixão.
Livro curioso, que nos mostra a potência da prosa de qualidade discutível de um mestre do pulp, acompanhado por ilustrações notáveis que espelham bem um estilo datado mas icónico.
quinta-feira, 18 de dezembro de 2014
Citações
"First-generation electronic computers fostered first-generation nuclear weapons, and next-generation computers fostered nex-generations nuclear weapons, a cycle that culminated in the Internet, the microprocessor, and the multiple-warhead ICBM." Esta frase de George Dyson no interessantíssimo Turing's Cathedral é um pouco como ler o primeiro parágrafo do livro do Génesis aplicado à história do computador. Sublinha a fortíssima ligação entre o nosso espantoso mundo digital e as necessidades militares por armamento avançado, algo que esteve na génese directa do trabalho fundamental que nos legou a computação contemporânea.
"All individuals were issued a device called "teletotal", connected to a global computer network with features similar to the Google and Facebook of today. "Teletotal threw a bridge between the thought world of the computer - which operated via pulse sequences at the speed of nano-seconds - and the thought world of the human brain, with its electrochemical nerve impulses"". George Dyson a citar Hannes Alfvén, físico sueco nobelizado que nos anos 60 legou a obscura mas curiosamente presciente ficção especulativa de The Great Computer: A Vision.
Ficções
Attack of the Giant Ants: Marabunta para a hipermodernidade. Um conto leve de Rudt Rucker que imagina formigas mutantes inteligentes e adaptáveis a invadir a cidade de São Francisco, acordadas de um longo sono nas profundezas pelos terremotos induzidos pela extracção de petróleo por fracking. Quando o Terraform ameaçou que queria publicar FC com o pulso na contemporaneidade, era isto que eu temia: grandes nomes a despachar uma historieta para enquadrar na temática. Confesso que dos que abriram esta variante do Vice Motherboard dedicado à FC só o do Bruce Sterling me impressionou.
Targeted Strike 2: Judgement Database: Não percebi. A sério. Não percebi. Isto é uma história de FC militarista? Uma variante da estrutura clássica da guerra futura? Uma sátira ao gaming e aos filmes de acção que usam FC militarista como adereço? Fiquei sem perceber. Estes elementos estavam todos dentro deste conto, mas não havia uma linha clara que nos indicasse onde o conto quer chegar. E, ao contrário de ficções mais arrojadas que fazem da inexistência de fios condutores excelentes contos, supõe-se que este pretendia chegar a algum lado.
Father Christmas A Wonder Tale Of The North: Charles Vess a escrever ficção? Sim, é encantador. E a sua ficção escrita é tal e qual o seu grafismo. Classicista, feéerica e inocente, com uma clareza de imagética que mostra porque é um dos melhores ilustradores contemporâneos de fantasia. A história em si é simples, uma variação sobre lendas do pai natal com trolls e muita ambiência mítica das florestas geladas da europa do norte. Encanta pelo classicismo.
Targeted Strike 2: Judgement Database: Não percebi. A sério. Não percebi. Isto é uma história de FC militarista? Uma variante da estrutura clássica da guerra futura? Uma sátira ao gaming e aos filmes de acção que usam FC militarista como adereço? Fiquei sem perceber. Estes elementos estavam todos dentro deste conto, mas não havia uma linha clara que nos indicasse onde o conto quer chegar. E, ao contrário de ficções mais arrojadas que fazem da inexistência de fios condutores excelentes contos, supõe-se que este pretendia chegar a algum lado.
Father Christmas A Wonder Tale Of The North: Charles Vess a escrever ficção? Sim, é encantador. E a sua ficção escrita é tal e qual o seu grafismo. Classicista, feéerica e inocente, com uma clareza de imagética que mostra porque é um dos melhores ilustradores contemporâneos de fantasia. A história em si é simples, uma variação sobre lendas do pai natal com trolls e muita ambiência mítica das florestas geladas da europa do norte. Encanta pelo classicismo.
quarta-feira, 17 de dezembro de 2014
Espelho retrovisor
Num mooc que estou a frequentar, Competências Digitais para Professores, as discussões iniciaram-se com este vídeo, What the Internet is Doing to Your Brain, essencialmente uma animação bonitinha que repesca o catastrofismo digital conservador de Nichlas Carr, autor de The Shallows e do controverso Is Google Making Us Stupid. a coisa caiu que nem um docinho no meio de gulosos. Suspeito que boa parte dos participantes neste mooc tivesse tido ali o primeiro contacto com este lado crítico. Que, refira-se, já não é novo.
O mcluhanismo pode ser assustador, sabemos Essa ideia de que as ferramentas que usamos modelam-nos tanto ou mais do que as modelamos a elas mexe com conceitos que nos são elementares como livre arbítrio, auto-controle ou liberdade de pensamento. E se lhe metermos uma nova tecnologia dá sempre espaço às visões apocalípticas sobre a catástrofe civilizacional iminente porque as novas gerações não serão como a nossa e daí nada de bom poderá advir.
Adoro aquela história (se não me enganto via Brian Winston, Media Technology and Society, um livro excepcional, apesar de ter uma prosa árida, sobre a evolução das tecnologias mediáticas)sobre os tempos em que não havia internet, televisão, videogames ou radio e os romances eram considerados perniciosas influências sobre a mente juvenil. Curiosamente vieram a tornar-se clássicos da literatura, caso de Werther de Goethe, várias vezes acusado de incentivar o suicídio nos jovens da época romântica.
How is the internet changing the way we think foi a questão Edge para 2010. Edge, para aqueles que não conhecem, é um projecto coordenado por John Brockman que todos os anos faz uma pergunta, respondida pelos maiores nomes da ciência, pensamento e tecnologia da actualidade. Vão ler, são fascinantes. Das respostas para 2010 cito esta em especial: "Before cuneiform, we revered the epic poet. Before Gutenberg, we exalted good handwriting. We still gasp at feats of linear memory". Ou, como numa disputa literária Warren Ellis (fãs de bd por aqui conhecem a importância deste escritor) observou: "Some beardy druid from the oral tradition, a few thousand years back: I don’t want to wake up and look at paper. I feel like as a society, we try to put everything on that same (Brythonic swear word) piece of paper, and pretty soon we’re going to be eating on paper or, forsooth, making love through paper. It’s just sort of like: "Why does everything have to be on the paper?"
O que não quer dizer que isto seja uma questão linear. Carr não deixa de ter alguma razão, especialmente na necessidade de reflexão e afastamento do constante fluxo. Ok, fluxo é palavra que não chega para descrever. Torrente de informação. Para não variar, o que nos é mais eficaz está no cruzamento dos argumentos. Em 2008 Carr perguntou Is Google Making us Stupid, na revista The New Atlantic (outra leitura regular recomendada). Seis anos depois, digam-me lá, sentem-se mais.. pronto, serei elegante: menos inteligentes?
Junto a este vídeo havia outro, criado pela biblioteca da universidade de Bergen, para despertar a atenção sobre as problemáticas do plágio. Tinha um jovem estudante com prazos a cumprir que, distraído pelas mamocas das namoradas, cai na tentação de plagiar para entregar um trabalho a tempo e horas. A coisa segue um caminho dickensiano, com um fantasma do futuro a mostrar-lhe as consequências perniciosas do seu acto. Não cede e é recompensado com uma festa onde acaba rodeado por cheerleaders de mamocas generosas e vestes curtas. Difícil de descrever a incredulidade com que vi uma instituição académica a objectificar o corpo feminino para ensinar a boa ética anti-plágio. O filme até tinha killer robots, mas mesmo assim não se desculpa. Percebe-se a tentativa de tornar leve e divertido um tema complexo, mas só lhes faltou recorrer ao estragema pr0n de meter uma biblitecária jeitosa pronta a tirar os óculos e o resto das parcas vestes para recompensar a consciência ética do estudante.
(Suspeito que eventualmente serei proscrito deste curso, se continuar com os meus desvios à linha de pensamento institucional.)
O mcluhanismo pode ser assustador, sabemos Essa ideia de que as ferramentas que usamos modelam-nos tanto ou mais do que as modelamos a elas mexe com conceitos que nos são elementares como livre arbítrio, auto-controle ou liberdade de pensamento. E se lhe metermos uma nova tecnologia dá sempre espaço às visões apocalípticas sobre a catástrofe civilizacional iminente porque as novas gerações não serão como a nossa e daí nada de bom poderá advir.
Adoro aquela história (se não me enganto via Brian Winston, Media Technology and Society, um livro excepcional, apesar de ter uma prosa árida, sobre a evolução das tecnologias mediáticas)sobre os tempos em que não havia internet, televisão, videogames ou radio e os romances eram considerados perniciosas influências sobre a mente juvenil. Curiosamente vieram a tornar-se clássicos da literatura, caso de Werther de Goethe, várias vezes acusado de incentivar o suicídio nos jovens da época romântica.
How is the internet changing the way we think foi a questão Edge para 2010. Edge, para aqueles que não conhecem, é um projecto coordenado por John Brockman que todos os anos faz uma pergunta, respondida pelos maiores nomes da ciência, pensamento e tecnologia da actualidade. Vão ler, são fascinantes. Das respostas para 2010 cito esta em especial: "Before cuneiform, we revered the epic poet. Before Gutenberg, we exalted good handwriting. We still gasp at feats of linear memory". Ou, como numa disputa literária Warren Ellis (fãs de bd por aqui conhecem a importância deste escritor) observou: "Some beardy druid from the oral tradition, a few thousand years back: I don’t want to wake up and look at paper. I feel like as a society, we try to put everything on that same (Brythonic swear word) piece of paper, and pretty soon we’re going to be eating on paper or, forsooth, making love through paper. It’s just sort of like: "Why does everything have to be on the paper?"
O que não quer dizer que isto seja uma questão linear. Carr não deixa de ter alguma razão, especialmente na necessidade de reflexão e afastamento do constante fluxo. Ok, fluxo é palavra que não chega para descrever. Torrente de informação. Para não variar, o que nos é mais eficaz está no cruzamento dos argumentos. Em 2008 Carr perguntou Is Google Making us Stupid, na revista The New Atlantic (outra leitura regular recomendada). Seis anos depois, digam-me lá, sentem-se mais.. pronto, serei elegante: menos inteligentes?
Junto a este vídeo havia outro, criado pela biblioteca da universidade de Bergen, para despertar a atenção sobre as problemáticas do plágio. Tinha um jovem estudante com prazos a cumprir que, distraído pelas mamocas das namoradas, cai na tentação de plagiar para entregar um trabalho a tempo e horas. A coisa segue um caminho dickensiano, com um fantasma do futuro a mostrar-lhe as consequências perniciosas do seu acto. Não cede e é recompensado com uma festa onde acaba rodeado por cheerleaders de mamocas generosas e vestes curtas. Difícil de descrever a incredulidade com que vi uma instituição académica a objectificar o corpo feminino para ensinar a boa ética anti-plágio. O filme até tinha killer robots, mas mesmo assim não se desculpa. Percebe-se a tentativa de tornar leve e divertido um tema complexo, mas só lhes faltou recorrer ao estragema pr0n de meter uma biblitecária jeitosa pronta a tirar os óculos e o resto das parcas vestes para recompensar a consciência ética do estudante.
(Suspeito que eventualmente serei proscrito deste curso, se continuar com os meus desvios à linha de pensamento institucional.)
terça-feira, 16 de dezembro de 2014
Sudo
O porquê da real importância de incentivar o uso de tecnologias com os nossos alunos vai mais além da visão de pesquisar/organizar conhecimento, fazer pontes geracionais, estimular o interesse das crianças ou aproveitar tecnologias e apps com potenciais pedagógicos.
Tem mais a ver com o conceito de capacitação. Takeown (ou sudo, se preferirem linux): a ideia que a evolução tecnológica, e especialmente a social, vista num espírito de liberdade progressista, depende de todos nós e não de élites esclarecidas. Gosto da palavra take/own, comando do windows, porque é mesmo isto: pegar/apropriar. O poder da tecnologia nas nossas mãos está aí, na capacidade ao alcance de cada um de nós de abrir de novas possibilidades, que podem ir do simples prosuming ao inventor de garagem que cria robots autónomos só porque sim. Algo que é abertamente combatido pelas instituições, porque sentem a sua base de poder ameaçada ou é mais fácil lucrar com o corrente estado das coisas. Funciona em duas frentes: restrições legais e incentivar a utilização na óptica do utilizador, esse belo termo das TI que designa aquele que apenas usa e não percebe nada do que se passa por detrás do teclado/ecrã táctil. O incentivo ao consumir, ver, manter vivo o medo de abrir, perceber como é que a coisa é feita, como se pode fazer, pode transformar a maioria dos utilizadores nos couch potatoes do século XXI. Sobrevive a este darwinismo digital uma élite quase sacerdotal daqueles que sabem, criam, constroem, fazem, vistos com um misto de apreensão e deslumbre pelos restantes. Suspeito que quando nos sentimos inclinados a concordar com o alarmismo do Nicholas Carr, ou tememos a associalização por efeito de tecnologias que nos interligam a grandes distâncias mas podem quebrar os laços mais próximos, o que realmente nos apoquenta seja mesmo isto: a sensação que o poder transformativo da tecnologia não está nas nossas mãos e depende do controle de eminências cinzentas.
Não tem de ser assim. A panóplia de tecnologias ao nosso dispor para contrariar a tendência da redução à óptica do utilizador é enorme e em crescimento. Podemos usar os humildes blogs, wikis ou apps para estruturar conhecimento, fazendo com que os alunos ponham a funcionar os neurónios para além da dúbia absorção de informação. Podemos ir mais longe: com programação (scratch, kodu, e linguagens mais profissionais para adolescentes), incentivando pensamento computacional e mostrando-lhes o cerne do mundo digital; Arduino e open hardware, tocando no making, no fazer, no estímulo ao engenho, misturando bits com ferros de soldar e resistências; 3D printing, fazendo a ponte entre arte e tecnologia, incentivando a procura por soluções individuais em objectos que materializam o digital; hacktivismo, usando as redes digitais para excercer cidadania activa. Ou como o Cory Doctorow diz muito melhor do que eu, "Freedom in the future will require us to have the capacity to monitor our devices and set meaningful policies for them; to examine and terminate the software processes that runs on them; and to maintain them as honest servants to our will, not as traitors and spies working for criminals, thugs, and control freaks."
Creio que a maior dádiva que podemos dar aos nossos alunos é despertá-los para as possibilidades que o futuro lhes trará, capacitando-os para serem criativos e intervenientes, não servos automatizados sujeitos aos caprichos da finança e economia do capitalismo terminal. Isso requer da nossa parte um esforço acrescido de procura de conhecimento sobre o mundo digital (não vai lá só com formação, cuja falta é queixa comum entre os docentes) e flexibilidade de abordagens. Não é tarefa fácil. Mas é a competência digital essencial para professores que se queiram manter pertinente a educação no futuro próximo.
Tem mais a ver com o conceito de capacitação. Takeown (ou sudo, se preferirem linux): a ideia que a evolução tecnológica, e especialmente a social, vista num espírito de liberdade progressista, depende de todos nós e não de élites esclarecidas. Gosto da palavra take/own, comando do windows, porque é mesmo isto: pegar/apropriar. O poder da tecnologia nas nossas mãos está aí, na capacidade ao alcance de cada um de nós de abrir de novas possibilidades, que podem ir do simples prosuming ao inventor de garagem que cria robots autónomos só porque sim. Algo que é abertamente combatido pelas instituições, porque sentem a sua base de poder ameaçada ou é mais fácil lucrar com o corrente estado das coisas. Funciona em duas frentes: restrições legais e incentivar a utilização na óptica do utilizador, esse belo termo das TI que designa aquele que apenas usa e não percebe nada do que se passa por detrás do teclado/ecrã táctil. O incentivo ao consumir, ver, manter vivo o medo de abrir, perceber como é que a coisa é feita, como se pode fazer, pode transformar a maioria dos utilizadores nos couch potatoes do século XXI. Sobrevive a este darwinismo digital uma élite quase sacerdotal daqueles que sabem, criam, constroem, fazem, vistos com um misto de apreensão e deslumbre pelos restantes. Suspeito que quando nos sentimos inclinados a concordar com o alarmismo do Nicholas Carr, ou tememos a associalização por efeito de tecnologias que nos interligam a grandes distâncias mas podem quebrar os laços mais próximos, o que realmente nos apoquenta seja mesmo isto: a sensação que o poder transformativo da tecnologia não está nas nossas mãos e depende do controle de eminências cinzentas.
Não tem de ser assim. A panóplia de tecnologias ao nosso dispor para contrariar a tendência da redução à óptica do utilizador é enorme e em crescimento. Podemos usar os humildes blogs, wikis ou apps para estruturar conhecimento, fazendo com que os alunos ponham a funcionar os neurónios para além da dúbia absorção de informação. Podemos ir mais longe: com programação (scratch, kodu, e linguagens mais profissionais para adolescentes), incentivando pensamento computacional e mostrando-lhes o cerne do mundo digital; Arduino e open hardware, tocando no making, no fazer, no estímulo ao engenho, misturando bits com ferros de soldar e resistências; 3D printing, fazendo a ponte entre arte e tecnologia, incentivando a procura por soluções individuais em objectos que materializam o digital; hacktivismo, usando as redes digitais para excercer cidadania activa. Ou como o Cory Doctorow diz muito melhor do que eu, "Freedom in the future will require us to have the capacity to monitor our devices and set meaningful policies for them; to examine and terminate the software processes that runs on them; and to maintain them as honest servants to our will, not as traitors and spies working for criminals, thugs, and control freaks."
Creio que a maior dádiva que podemos dar aos nossos alunos é despertá-los para as possibilidades que o futuro lhes trará, capacitando-os para serem criativos e intervenientes, não servos automatizados sujeitos aos caprichos da finança e economia do capitalismo terminal. Isso requer da nossa parte um esforço acrescido de procura de conhecimento sobre o mundo digital (não vai lá só com formação, cuja falta é queixa comum entre os docentes) e flexibilidade de abordagens. Não é tarefa fácil. Mas é a competência digital essencial para professores que se queiram manter pertinente a educação no futuro próximo.
segunda-feira, 15 de dezembro de 2014
Comics
Afterlife With Archi #07: Depois de surpreender com o détournement dos pressupostos do simplismo clássico do all american boy, a série regressa entrando em território Walking Dead. Faz sentido. Todas as histórias com zombies têm o seu lado de périplo, com a obrigatória procissão por paisagens urbanas ou campestres decadentes temperadas com ataques de hordas de mortos vivos. Aguirre-Sacasa continua a temperar de vermelho profundo a quadricromia dos comics Archie, aproveitando a procissão em busca de sobrevivência para levar ao extremo as neuroses caricaturadas no bom humor normalizado do universo ficcional original destes personagens. Catanas, ao que parece, são uma excelente terapia para uma rapariga resolver de vez os seus problemas com um irmão impositivo. O estilismo de Francavilla continua a sublinhar que estamos a anos-luz do mundo adolescente luminoso de Archie e dos seus amigos.
Coffin Hill #14: Confesso que nunca esperei que esta série se revelasse tão consistente e boa. Pensei que fosse mais uma história de terror com bruxarias com o seu quê de bruxas de Salem temperadas com algum lovecraftianismo e assassínios rituais. Coffin Hill mexe, de facto, com estes elementos mas fá-lo com uma consistência admirável. Tudo gira à volta da localidade misteriosa onde reside uma família com segredos tenebrosos e uma jovem e problemática herdeira que lida com fantasmas do passado e regressa à terra após uma experiência falhada como polícia. Ou melhor, começa aí. Caitlin Kittredge supreende-nos com argumentos que não estariam nada mal como excelentes filmes de terror, temperando a visceralidade expectável com um sentido fortíssimo de ambiência arrepiante. Apesar de discreta, esta série inesperada é talvez a melhor a ser publicada no momento pela DC/Vertigo, mesmo levando em conta os interessantes Bodies e The Numbers, sem esquecer o incontornável Sandman Overture.
Little Nemo: Return to Slumberland #03: O fabuloso traço de Gabriel Rodriguez já é razão suficiente para se acompanhar este regresso do personagem clássico de Winsor McKay, e Eric Shanower destaca-se de forma admirável pelo cuidado que coloca no argumento, a trilhar o caminho certo entre a inovação e o respeito profundo por uma obra original tão marcante quando Little Nemo é na história da banda desenhada. Desconheço se McKay alguma vez se cruzou com M. C. Escher, Se o tivesse feito, suspeito que teria sido algo como esta profunda vénia que homenageia o marcante ilusionismo visual do artista holandês dentro do feérico onirismo infantil do ilustrador americano.
Wild's End #04: Irresistível. Como fã de H.G. Wells, não consigo deixar de estar curioso pelas diferentes abordagens que o marcante clássico War of the Worlds tem tido. Misturar este texto clássico sobre invasões alienígenas com o bucolismo anglófono e classicista dos animais antropomorfizados é um conceito brilhante que Dan Abnett vai levando com uma dose discreta de humor. E depois temos o traço de Culbard, sempre tão simples e elegante, e tão certeiro no tom neo-vitoriano que confere à série.
domingo, 14 de dezembro de 2014
Subscrever:
Mensagens (Atom)